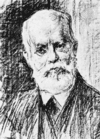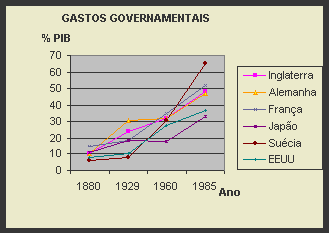Globalização ou crise
global?
Csaba Deák
FAUUSP, 2000
Apresentado no Seminário Internacional GLOBALIZAÇÃO
E ESTRUTURA URBANA, FAUUSP, 9-10 setembro de 1997, São Paulo, FAUUSP
e em forma revisada e com o acréscimo da seção 7,
no Encontro Nacional da ANPUR, 2001, Rio de Janeiro |
 Breughel Torre de Babel
Breughel Torre de Babel |
|
1 A palavra e o conceito
2 Os clássicos
3 A dialética da forma-mercadoria
4 Crises, estágios de desenvolvimento e a intervenção
do Estado
5 Globalização e a nação-Estado
6 A globalização no Brasil
7 São Paulo, cidade mundial? |
18 maio 1993 – A Dinamarca, após muitas
hesitações, reticência e garantias recebidas, cedeu
à pressão do pânico coletivo e disse sim a Maastricht.
Mas o Tratado continua sendo um pecado mortal na consciência de muitos
signatários, e um pesadelo ainda mais angustiante para as almas
do resto …
Miguel Torga, Diário, Vol. XVI
A unificação é ainda sòmente um nome, uma
marca registrada. Ninguém pode avaliar os benefícios reais
de uma associação como essa. Se nós estamos falando
de um novo uniforme, uma nova côr unificada, então eu estou
fora. A Europa é feita de muitos campos que trazem muitas flores
de múltiplas cores e de muitas espécies diferentes.
István Szabó, Entrevista, 25ª Semana
do Cinema, Budapest 1994
To sum up, what is Free Trade under the present conditions of society?
Freedom of capital.
Marx, Speech at the Democratic Association of Brussels,
January 9, 1848
1 A palavra e o conceito
Globalização acabou se tornando uma das palavras-chave
mais em voga dos anos oitenta e sobrevive nos anos noventa, ao lado de
outras tais como, ‘privatização’, ‘ecologia’, ‘desenvolvimento
sustentado’ ou o ‘fim da história’, além dos inúmeros
neo- e pós- -ismos, como neo-liberalismo, pós-fordismo,
pós-industrial ou pós-moderno. No entanto, no caso da globalização
assim como no dos demais neologismos citados, uso frequente ou largamente
difundido não é garantia de significado claro ou sequer emprego
consistente. De maneira geral, neologismos são utilizados como se
fossem novos conceitos quando na verdade procuram apenas encobrir o sentido
de conceitos pré-existentes bem definidos, substituindo-os. Eis
como no início dos anos 70 Hugo Radice argumentava contra o uso
da expressão 'firmas multinacionais' ao invés de 'internacionais':
O termo geralmente usado para descrever companhias com
instalações fabris em mais de um país é 'empresa
(corporação, firma) multinacional'. Eu uso o termo 'empresa
internacional' , em parte porque é mais acessível, e em parte
porque o mesmo enfatisa o movimento de capital através e
entre 'nações' da economia mundial, enquanto que 'multinacional'
tem uma falsa conotação de 'mais de uma nacionalidade'.
Introdução, Radice (Ed, 1975):9
No caso da globalização, o termo é usado a torto e
a direita, para explicar fenômenos do capitalismo contemporâneo,
para justificar medidas econômicas de governos nacionais e até
políticas urbanas de governos locais. O que é geral
é que na maioria dos casos a palavra 'globalização'
vem com uma conotação de inexorável, acompanhante
inevitável do rolo compressor da modernidade.
Afim de demarcar o terreno de sua definição, e também
a guisa de introdução, vamos passar em breve revista os possíveis
significados da palavra globalização, ou mais exatamente,
os significados compatíveis com o uso corrente da palavra, para
dar um primeiro passo para sua clarificação. Vamos relembrar
também algumas formulações clássicas da Economia
Política que foram soterradas na avalanche neo-liberal que vem tomando
conta do discurso sobre o capitalismo contemporâneo.
O aprofundamento da generalização da forma-mercadoria
Uma das características mais arraigadas do capitalismo é
a tendência fundamental para a generalização da forma-mercadoria,
na tentativa de produzir tanto valor de uso (materializado no objeto
útil) enquanto valor de troca (materializado na mercadoria,
forma em que o mesmo objeto é produzido) quanto possível.
Esse movimento se concretizou històricamente dentro de mercados
unificados no âmbito de nacões-Estado; e a história
do capitalismo até hoje pode ser vista, como a história do
desenvolvimento dos mercados nacionais e dos conflitos entre os mesmos
e as nações que os suportam. O mercado mundial, não-obstante
frequentemente invocado e sonhado a partir da segunda metade do século
passado pelas nações-Estado mais fortes, continuou fugidio
e chegou a submergir na confrontação das mesmas nações-Estado
disputando seu domínio. Ainda assim, a ausência de ‘Guerras
Mundiais’ (globais?) desde a Segunda (não obstante inúmeras
guerras localizadas) produziu um período relativamente longo de
relativa paz, o que pode ter levado muitos a ver –finalmente– a miragem
do mercado mundial. Fronteiras nacionais teriam sido derrubadas por certo
número de ‘mercadorias mundiais’ (carros, gravadores vídeo,
computadores), cujos folhetos estão impressos em meia dúzia
de linguas, ligações a cabo permitem a transmissão
de sinais de televisão e de computador ao redor do planeta e isto
é sòmente o comêço… Há alguns anos, o
efeito do último acordo GATT de 1993 foi jubilantemente estimado
em 200 bilhões de dólares de comércio internacional
adicional
para a próxima década. Veremos, que tais abordagens entusiastas
precisariam ser submetidas ao crivo de parâmetros concretos dos processos
a que se referem.
Livre-comércio (ou tendêcia para)
O último acordo comercial do GATT, a chamada "Rodada Uruguai",
assinado a muito custo após oito anos de barganha, logo se tornaria
obsoleto, mas já na época de sua assinatura em 15 de dezembro
de 1993 tinha siginificado dúbio e era sujeito a interpretações
subjetivas. Em outras palavras, o significado do GATT era tudo menos global.
Assim, enquanto um representante dos países centrais comemorava:
Hoje o mundo escolheu abertura e cooperação
no lugar de incerteza e conflito.
Peter Sutherland, Diretor-Geral do GATT
ecos bem menos otimistas vinham das ex-colônias, ou países
'periféricos'. No relato da Gazeta Mercantil, em continuação
ao citado acima:
"Com toda franqueza, devemos dizer que os resultados
da Rodada Uruguai nos deixaram algumas vezes com sentimentos contraditórios",
disse, em tom muito mais austero, o embaixador do Brasil no GATT, Luiz
Felipe Lampréia, no discurso final no plenário.
Ele não foi uma exceção. Os países
em desenvolvimento, de forma geral, reclamaram das poucas concessões
obtidas (especialmente nas áreas agrícola e têxtil).
O que era verdade. Efetivamente, nos últimos estágios da
negociação eles simplesmente dispersaram, na nítida
–e bem fundada– impressão de que os acordos tornaram-se um assunto
privado entre os "três grandes": os EEUU, a Comunidade Européia
e o Japão.
De fato, em acordos de última hora com a CE, os EEUU negociavam
acordos bilaterais que mantinham subsídios compensados de parte
a parte principalmente à produção agrícola
–um item de particular interesse aos países menos industrializados–
em flagrante contradição ao ‘espírito’ do acordo.
‘Livre comércio’ continua sendo, como sempre foi, mais retórica
que fatos. Nem os supra-referidos 200 bilhões de dólares
de reforço ao comércio mundial suscitou consenso mesmo entre
os países mais ricos. Os franceses logo assinalaram, que
Près de 200 milliards de dollars… Un chiffre
martelé par les dirigeants britanniques mais qui a laissé
sceptique la plupart des responsables politiques en France, M. Balladur
notamment, qui l’a qualifié de ‘littéraire’.
Le Monde, 92.11.28:23
Assim, nesse caso, a ‘globalidade’ não chegou a abarcar nem sequer
os 42 km
que separam os dois lados do Canal da Mancha... Recentemente (relativo
à revisão deste texto para publicação, em 2000)
tem surgido reações populares às políticas
e da Organização Mundial do Comércio (OMC, que sucede
ao GATT): pela primeira vez em Seattle na reunião anual da OMC ,
houve verdadeira batalha campal entre a polícia e manifestantes
vindos dos mais diversas organizações e cantos do mundo (uma
reação global à globalização?), fato
que se repetiu no ano subsequente na Suíça. O rolo compressor
da globalização parece estar perdendo ímpeto, ou mais
exatamente, o consenso em torno da idéia da globalização
está se rompendo. Ao nível da produção acadêmica
e dos meios de divulgação, levantam-se algumas vozes também,
referidos abaixo em alguns exemplos, a começar pela Monthly Review,
de longa tradição na crítica da ideologia liberal.
A Monthly Review
Uma rara visão, não-apologética, da globalização,
foi expressa em um editorial em 1992 –tomando a oportunidade do quincentenário
do ‘descobrimento ‘ da América– pela revista Monthly Review.
Começava por resumir ‘as características fundamentais do
processo de globalização’ como sendo
a rápida expansão do investimento estrangeiro,
a importância relativa crescente das finanças quando comparadas
à produção real na economia global, a luta sempre
mais ferrenha entre as três maiores potências capitalistas
pela primazia, a manutenção da divisão do mundo entre
nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, e o fosso sempre
mais largo que separa o core (centro) da periferia do capitalismo.
Mas lembrava o fato, já sugerido na própria data de publicação
do número especial, que aquilo a que comumente se refere como 'globalização'
comecou há 500 anos, uma idéia à qual voltamos abaixo.
Porém mais importante, e acima de tudo, o artigo da MR coloca
um ponto de vista, raramente assumido e ainda mais raramente enfatizado,
a saber, que globalização tem sido largamente usada como
um eufemismo –para capitalismo tardio– ou simples neologismo – como uma
alternativa
a uma visão histórica do capitalismo, uma visão que
forçaria até mesmo os mais recalcitrantes a enxergar a crise
que está diante dos próprios olhos.
A título apenas de alguns exemplos de outros estudos no mesmo
veio, vale lembrar aqui a coletânea de ensaios organizado por Henk
Overbeek (Overbeek, 1993) cujo enfoque geral é uma avaliação
do estado e das perspectivas do capitalismo contemporâneo; e para
as implicações dos últimos desdobramentos desse ao
nível do processo urbano, estudos de Les Budd (Budd, 1995,1998).
O que é novo, na verdade?
Muitos dos fenômenos que em conjunto passam por constituintes
da 'globalização' não são absolutamente novos.
Nem a própria idéia da globalidade é tão nova,
ao fim das contas. Muito antes da 'aldeia global' "descoberto" por McLuhan
nos anos ‘60, havia, por exemplo, a Liga das Nações
organizada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial –se bem que a mesma
não foi capaz de ‘orquestrar’ os interesses conflitantes das nações-Estado
do mundo —como o provou o reinício da guerra mundial em 1939—, nem,
por outro lado, em sustar a eclosão ou debelar a eclosão
das revoluções socialistas em encubação, à
exceção da Alemanha (1918), da Hungria (1919) e da Grécia
(1923) e talvez na Espanha (1936). Mas, nas verdade, a última grande
notícia a respeito de ‘globalização’ é muito
anterior ainda: é a descoberta e implantação do telégrafo
no início dos anos 1850, que reduziu o tempo de percurso de uma
notícia de Londres para, digamos, a recém-fundada colônia
de Hong Kong, de 40-50 dias em um barco a vela (o vapor estava só
começando) a uma fração de segundo através
de um cabo no fundo do mar, informando a cotação da seda,
pimenta do reino, açúcar ou das acões na Bôlsa
de Londres pelo mundo inteiro. Foi então que o globo ficou
pequeno (há cento e cinquenta anos) e seguia-se o progresso rápido
nas técnicas de transporte de carga (vela para máquina a
vapor, carroça para estrada de ferro) para também reduzir
substancialmente o tempo de transporte de mercadorias para todos os cantos
do planeta.
Não obstante, também não foi o telégrafo,
por certo, o primeiro passo em direção à ‘globalidade’.
Cinco anos antes de sua invenção, uma descrição
das tendências contemporâneas do capitalismo por Marx e Engels
soa como se tivesse sido escrito hoje:
Ao invés das necessidades antigas, satisfeitas
por produtos do próprio país, temos novas demandas supridas
por produtos dos países mais distantes, de climas os mais diversos.
No lugar da tradicional auto-suficiência e do isolamento das nações
surge uma circulação universal, uma interdependêcia
geral entre os países.
Marx e Engels, O manifesto comunista,
1848
Na verdade, os primórdios da unificação da economia
mundial são muito anteriores ainda, e é difícil discordar
de Samir Amin para quem a globalização, começou de
fato em 1492 e foi ràpidamente dominada pelo próprio
capitalismo, vindo a seguir, a ser pràticamente identificada com
o mesmo:
(Se fosse para designar uma data para o nascimento do
mundo moderno,) Eu escolheria 1492, o ano em que os europeus começaram
sua conquista do planeta – nos sentidos miltar, econômico, político,
ideológico, cultural, e até, num certo sentido, étnico.
Mas o mundo em questão é também o mundo do capitalismo,
um sistema social e econômico qualitativamente diferente de todos
os sistemas da Europa ou alhures. Esses dois traços são inseparáveis,
e esses fatos colocam em xeque todas as análises e respostas à
crise da modernidade que deixam de reconhecer sua simultaneidade.
Samir Amin, 1992
Independentemente de tal associação analítica
– discutível– entre europeus e capitalismo (poderia haver algo como
uma ideologia européia?), é sempre bom lembrar que o que
quer que esteja acontecendo hoje, na época contemporânea,
acontece no e ao capitalismo.
Toda essa discussão em torno da questão da globalização,
apesar da imprecisão dos termos em que ela tem sido levada, pode
ser aproveitada de alguma forma. O que quer que seja entendido por globalização,
os ‘aspectos’ acima arrolados – a ampliação da intermediação
financeira, a perda relativa do peso das manufaturas, a ampliação
do papel do Estado e a desesperada reação neo-liberal – são,
na verdade, quaisquer que sejam suas possíveis interpretações,
indicadores de algumas das principais características do estágio
atual de desenvolvimento capitalista. A sua colocação em
perspectiva histórica, ou a avaliação de seus potenciais
desdobramentos futuros a partir desse estágio, exige uma periodização
do capitalismo, assim como, em particular, uma interpretação
do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial.
A proposição aqui colocada é que o presente estágio
se caracteriza pelo término da transição, iniciada
há pouco mais de um século, do processo de acumulação
predominentemente extensiva para um processo de acumulação
preominantemente intensiva em todos os principais centros de acumulação
capitalista, ou em outras palavras, que o atual estágio de desenvolvimento
é caracterizado pela exaustão do estágio de acumulação
predominantemente intensiva. Uma vez que não há indicação,
e menos ainda, garantia, de algum possível terceiro estágio
de desenvolvimento capitalista ("acumulação pós-intensiva"
só poderia ser concebida como piada), coloca-se um ponto de interrogação
referente às perspectivas futuras da produção de mercadorias
sob regulação capitalista.
Antes de esboçar uma interpretação do capitalismo
contemporâneo dento de uma perspectiva histórica, no entanto,
vamos recordar algumas formulações anteriores, hoje ditas
‘clássicas’, das mais relevantes, porém hoje soterradas sob
debaixo de espessa camada de produção da ideologia liberal.
2 Os clássicos
Modo de produção, periodização, estágios
de desenvolvimento histórico, crises e muitos mais conceitos utilizados
pela Economia Política tornaram-se categorias esquecidas, e seu
lugar foi sendo ocupado por pseudo-conceitos. E no entanto, a maioria das
questões que nos tocam hoje haviam sido formuladas e foram discutidas
em termos dos mais claros desde Adam Smith e aprofundadas com o desenvolvimento
do materialismo dialético. Lembraremos aqui duas das colocações
–ou controvérsias– clássicas que dizem diretamente respeito
ao assunto que tem sido designado por globalização –e que
não é nada mais (ou menos) que o capitalismo contemporâneo.
Trata-se da discussão sobre o mercado mundial e do debate sobre
o ultra-imperialismo.
Mercado mundial ou imperialismo?
Quanto ao mercado mundial, é o mesmo apresentado como um derivado
técnico, decorrência direta do progresso tecnológico
ou ainda, uma tendência natural, efeito do desenvolvimento, ao qual
as economias nacionais se sentem atraídas. Algumas foram mesmo atraídas;
outras necessitam de um empurrão e empurradas foram. Assim, enquanto
a Alemanha se revelou bom entendedor, no Japão o mercado mundial
teve manifestar-se por tais meios não-mercado, como os canhões
de vasos de guerra (procedimento chamado càndidamente de ‘gun-boat
diplomacy’). Quando o ‘mercado mundial’ (vale dizer, a hegemonia da indústria
inglesa pós-revolução industrial) se fez sentir na
Alemanha, ele provocou uma resposta endógena na forma de uma transformação
social no sentido da sociedade burguesa –marcada pela revolução
de 1848– e da formação do Estado nacional a partir da união
aduaneira. Quando o mesmo mercado mundial falhou em provocar uma resposta
no Japão, ele começou falar mais alto através da boca
dos canhões de navios de guerra americanos, quando então
acabou provocando transformações sociais tão profundas
–ou mais– quanto aquelas iniciadas na Alemanha uma década antes:
a dissolução da sociedade feudal e a introdução
do trabalho assalariado (Restauração Meiji). E o mesmo mercado
mundial também falou alto para o Paraguai, que cometeu o pecado
capital de isolar-se na América Latina como um país que preferiu
fabricar, a comprar, tudo, de alimento a vestuário e máquinas
e até armamentos, e inventou de acabar com o analfabetismo. No que
o mercado mundial visitou o Paraguai na forma da Tríplice
Aliança (Argentina, Brasil, Uruguai) e virtualmente aniquilou o
país desalinhado.
Isto, para mencionar apenas dois casos, marcantemente diferentes entre
si, mas é claro que metade da Ásia e toda a África
tiveram destino semelhante. O fato é que ‘mercado mundial’ só
não usa força armada quando ele (isto é, o Estado-nação
dominante de plantão) consegue se impôr sem fazê-lo.É
esse fato que levou à gênese da palavra ‘imperialismo’, mais
eloquente que ‘mercado mundial’.
Ultra-imperialismo, ou rivalidade inter-imperialista?
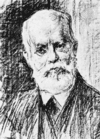
O termo imperialismo foi cunhado pelo economista inglês
A J Hobson para descrever a economia mundial dominada pela Grã-Bretanha.
Seu livro homônimo foi publicado em 1902, no fim do período
da preponderância britânica quase-absoluta. Com o surgimento
de novos centros mundiais de acumulação –Alemanha, EEUU,
França, Japão–, e o consequente ocaso da Pax Britannica,
os conflitos em torno da 'divisão do bolo' iam se aguçando.
O cerne da questão discutida no início desse século
era se poderia existir um ‘capitalismo pacífico’, como sustentado
pelos social-democratas alemães com Kautsky –que vislumbrava um
ultra-imperialismo, uma espécie de consórcio de países
dominantes que compartilharia o domínio da economia mundial– e disputado
pelos bolsheviques russos com Lênin à frente. Este último
assim o resumiu em sua "Introdução" ao Imperialismo e
a economia mundial de Bukhárin (1915):
 |
Quanto a Kautsky em particular, seu rompimento
expresso com o marxismo o levou a sonhar com um ‘capitalismo pacífico’.
Se o nome de ultra-imperialismo for dado à unificação
internacional de imperialismos nacionais (ou mais corretamente, limitados
ao âmbito do Estado nacional), e que permitisse eliminar os conflitos
mais perturbadores e repulsivos, como guerras, convulsões políticas
etc, dos quais a pequena burguesia tem tanto medo, então porque
não se entregar a sonhos inocentes de um ultra-imperialismo comparativamente
sem conflitos, relativamente não-catastrófico?
|
Independentemente de uma tomada de posição ao lado de
uma ou outra posição entre os oponentes, o que é flagrante
é a nitidez com a qual se colocava a problemática do capitalismo
da época. Tais formulações inequívocas são
alheias à sociedade moderna –vale dizer, o capitalismo contemporâneo–,
que produz uma ideologia sempre mais superficial na medida mesmo que sua
crise se aprofunda. O pilar central de tal ideologia é uma visão
a-histórica da sociedade, que não permite enxergar mais do
que conjunturas ou fenômenos superficiais, tais como, ‘períodos
de paz’, ‘de relativa estabilidade’, ‘de boom’ (ou recessão),
‘guerras locais’ ou ‘instabilidade regional’, ou ainda ‘tendênciaparaautoritarismo'
(ou 're-democratização'). Se não há história,
não há transformação e se não há
transformação, não há crise e assim, o que
é
(a sociedade burguesa) torna-se natural e vai permanecer,
enquanto que os problemas miúdos que acometem a ordem natural das
coisas –como uma ‘queda de confiança dos mercados’– será
por certo resolvido, pode-se afiançar, por meio de expedientes igualmente
miúdos –como um reforço da confiança dos investidores,
a constituição de uma força-tarefa ou de uma comissão
especial–, por pouco que ‘a sociedade’ (a anôdina ‘sociedade civil’)
lhes dedique um pouco de esforço.
No que segue, esboçaremos uma visão crítica do
capitalismo contemporâneo, para poder, voltando à questão
da globalização em seguida, avaliar finalmente o âmbito
e o significado daquele ‘conceito’ em sí, e especialmente em suas
adaptações no Brasil.
3 A dialética da forma-mercadoria
A principal força motriz do capitalismo continua sendo o mesmo
processo que o trouxe à luz, através da transição
do feudalismo para o capitalismo, a saber, a generalização
da forma-mercadoria. Enquanto no feudalismo a mesma era restrita ao excedente,
produzido pelo servo, apropriado pelo senhor – na forma de renda
– e levado ao mercado nas cidades, sendo os meios de reprodução
da força de trabalho providos mediante produção para
a subsistência diretamente como valores de uso, no capitalismo ambos,
excedente e meios de subsistência, tornam-se mercadorias (assim como
a própria força de trabalho). Isso é chamado de ‘generalização
da forma-mercadoria’. Valores de uso são produzidos enquanto mercadorias,
vale dizer, enquanto valores de troca, e a primazia do valor de troca sobre
o valor de uso tende a estender-se a toda a produção. Os
trabalhadores, desprovidos de seus meios de produção e assim,
de subsistência, são obrigados a vender sua força de
trabalho, ela própria agora mercadoria, pelo salário,
para com esse salário comprar no mercado seus próprios meios
de reprodução.
Nem tudo pode ser produzido enquanto valor de troca, no entanto. O mercado
é capaz de organizar uma parte da produção social,
mas não pode organizar a produção social como um todo.
O que exatamente pode e o que não pode ser produzido enquanto mercadoria
varia de acordo com os estágios históricos específicos
do capitalismo, mas a produção direta de valores de uso necessàriamente
inclui a infraestrutura urbana e espacial – o ambiente construído
– por um lado, e as condições institucionais para a contínua
re-imposição da relação salário/ capital,
por outro; e ela geralmente também inclui um certo número
de ramos industriais nascentes e outros, obsoletos. Aquela parte dos produtos
que não pôde ser mercadorizada é produzida diretamente
enquanto valor de uso, sob a intervenção direta do Estado.
Dessa forma, a generalização da forma-mercadoria sòmente
pode ser enunciada como uma dialética, mais do que algum processo
de ‘evolução’ linear. Assim, capitalismo se caracteriza pela
tendência
para a generalização da forma-mercadoria, quepor sua vez
acarreta a necessidade da intervenção do Estado e a produção
direta de valores de uso. No entanto, se a intervenção estatal
é de fato necessária para preservar a forma-mercadoria (assegurando
as condições de funcionamento do mercado), a mesma é
também antagonística com aquela última, ao impor um
limite à expansão da forma-mercadoria precisamente enquanto
e na medida em que a sustenta. Assim, a tendência para a generalização
da forma-mercadoria levanta uma contra-tendência que a nega, a saber,
a sempre mais abrangente intervenção estatal e a produção
direta de valores de uso. É a isso que chamamos de dialética
da forma-mercadoria.
O capitalismo pode ser então visto como movido pela relação
antagônica do mercado e do Estado, em que é postulada a primazia
do mercado. De fato, a característica fundamental do capitalismo
é essa primazia, que atribue ao Estado um papel coadjuvante, de
sustento, em relação ao mercado, mais do algum grau ou nível
particular de generalização da forma-mercadoria. Por sua
vez, o desenvolvimento do antagonismo na dialética da forma-mercadoria,
isto, é, a medida da penetração da produção
de mercadorias na produção social como um todo, caracteriza
os estágios de desenvolvimento do capitalismo.
Uma vez que a produção é regulada conjuntamente
pelo Estado e pelo mercado, é claro que, concretamente, quanto mais
ativo for o Estado na organização da produção,
menos resta ao mercado para regular, e vice-versa, quanto menor
a intervenção do Estado, maior é a responsabilidade
da regulação pelo mercado – e a taxa de lucro, o instrumento
de regulação por excelência à disposição
do mercado– deve ser mais alta. E inversamente, lucros menores, como ocorre
no estágio de acumulação intensiva com menores taxas
de crescimento, exigem uma expansão da intervenção
do Estado, para compensar pelo enfraquecimento do instrumento básico
de regulação pelo mercado, a saber, a taxa de lucro que regula
o fluxo de capitais –a alocação de recursos de produção–
entre os ramos industriais. Assim, menores taxas de crescimento e portanto,
de lucro, e intervenção estatal em expansão são
dois lados da mesma moeda no estágio intensivo – vale dizer, no
capitalismo contemporâneo.
Para a globalização, em particular, isso significa que
se por ela se entende a generalização da forma-mercadoria
à escala mundial, então é ela um processo antagônico
–como já o é dentro dos limites de nações-Estado–,
e como tal, sujeito à contra-tendência que a tendêcia
à generalização suscita.
4 Crises, estágios de desenvolvimento
e intervenção do Estado
As crises do capitalismo podem ser vistas como sendo, em última
análise, períodos em que o desenvolvimento do antagonismo
no interioror da dialética da forma-mercadoria alcança um
estágio em que a própria primazia da produção
torna-se ameaçada. Em tais crises, a própria contra-tendência
–a saber, a amplação da produção de não-mercadodoras–
acaba por suscitar seu oposto, na forma de tentativas, que não raro
chegam às raias de eforços desesperados, de recompor e re-impor
a primazia da forma-mercadoria. A negação da negação,
no entanto, não é a tendência original –razão
pela qual, privatização não é o mesmo
que mercadorização. Por isso, também, as crises
do capitalismo não puntuam ‘ciclos’: em cada crise ocorrem transformações
que, longe de reconduzir ao período (‘ciclo’) anterior, desenvolvem
o antagonismo da forma-mercadoria ainda mais. Diz-se que a história
do capitalismo é a história de suas crises. Mais especìficamente
poderia-se dizer que a história do capitalismo é a história
da re-imposição da primazia da forma-mercadoria.
Em particular, as crises se aguçam no estágio de acumulação
predominantemente intensivo e põem sempre mais em relevo o papel
sempre mais amplo do Estado. Enquanto que o Estado sempre foi, naturalmente,
‘necessário’ para o capitalismo (desempenhando tarefas tão
fundamentais como assegurar a propriedade privada, impor o próprio
trabalho assalariado e conduzir guerras), o crescimento rápido da
produção de mercadorias no estágio extensivo, como
resultado da combinação de acumulação pròpriamente
dita (no âmbito da produção de mercadorias) e
de sua extensão à produção até
então não-capitalista (produção independente,
produção para subsistência, trabalho escravo etc.)
ajudava a evitar desafios realmente sérios à primazia da
forma-mercadoria. Já no estágio intensivo, esgotadas es possibilidade
de extensão, o crescimento da produção de mercadorias
fica restrito ao aumento da produtividade do trabalho (progresso técnico),
a contra-tendência à generalização da forma-mercadoria
torna-se uma ameaça de fato.
Este é o contexto contemporâneo da ampliação
da intervenção do Estado. Uma das áreas precípuas
de intervenção estatal e de produção direta
de valores de uso, é a produção do espaço,
ou em outras palavras, a produção/transformação
de estruturas espaciais, ou ainda, o ambiente construído. Se o planejamento
urbano enquanto tal nasceu com a transição para o estágio
intensivo do capitalismo na segunda metade do século passado, o
interesse no ambiente construído aumentou ainda mais com a crise
iníciada nos anos 1970 –ainda não superada– e que seguiu
a exaustão do ‘boom’ da reconstrução pós-guerra.
Questões como a da habitação (a lembrar que a ‘Questão
da habitação’ surgiu como uma preocupação maior
há mais de cem anos durante a Grande Depressão na Inglaterra,
gerando um debate público no qual o próprio Engels tomou
parte, com seu A questão da habitação, de 1872)
e a possibilidade de sua mercadorização, o preço do
solo e ao próprio status da propriedade privada em terra
na aglomeração urbana, e nessa conexão, a própria
teoria de renda tornaram-se assuntos de grande interesse para o urbanismo.
A um nível ainda mais geral, as atenções voltaram-se
à relação entre a transformação do espaço
e o processo de acumulação mesmo (como o aumento do investimento
em infraestrutura espacial em épocas de recessão e vice-versa
– um comportamento que tem sido chamado de ‘contra-cíclico’).
Mas, naturalmente, a penetração da regulação
estatal na economia não se restringe ao ambiente construído
apenas. Como já mencionado, ela abarca os ramos de produção
mais diversos, ainda que dependendo do estágio de desenvolvimento
em curso, tais como, a proteção de ramos industriais obsoletos
(atualmente, siderurgia e indústria pesada em geral), o subsídio
aos ramos industriais novos e à indùstria de armamentos (‘pesquisa’,
‘defesa’) e –last but not least– ‘resgate’ a bancos falidos e sustentação
de toda a estrutura financeira ao nível nacional e até internacional.
Para se ter uma idéia das ordens de grandeza envolvidas no processo
de ezpansão do participação do Estado no estágio
intensivo, vamos lembrar que há um século, a parcela da produção
diretamente dependente do Estado era da ordem de 10 a 15%, ao passo que
atualmente a mesma subiu a algo entre a metade a dois
Participação do Estado no Produto Nacional,
1880-1985 em alguns países centrais.
Fonte: cf. Anexo (p.21).
|
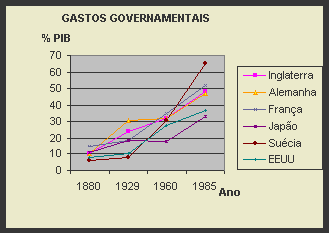 |
terços das economias nacionais. A figura acima ilustra essa evolução
através de um século até 1985 – o que já inclue
uma década de Reaganismo-Thatcherismo, isto, é, tentativa
de recomposição do domínio do mercado.
Nessa perspectiva deve estar claro que exatamente quanto de regulação
pelo mercado/ intervenção estatal há em
determinada sociedade e época não é uma tecnicalidade
(de ‘eficiência’ etc.) ou mesmo de vontade de tal ou tal grupo ou
classe social. O exemplo pelo anverso, a descentralização
tardia das economias planejadas do Leste europeu, mostra precisamente que
a reforma não era o resultado de algum projeto (de uma nova organização),
senão tão-sòmente uma ‘resposta’ à crise da
sociedade centralmente planejada, ou ainda, se tal ‘projeto’ houve, o mesmo
era simplesmente uma resposta à crise do planejamento centralizado,
sendo portanto, na verdade, a própria necessidade histórica.
Da mesma forma, se uma característica precípua do estágio
intensivo é a ampliação do papel do Estado, toda empreitada
no sentido de ‘restabelecer o equilíbrio’ em favor do mercado só
poderá ser uma tentativa vã de voltar aos ‘bons velhos tempos’
do capitalismo. Isto para não falar da tendência de encolhimento
do âmbito da produção manufatureira, locus privilegiado
da produção de mercadorias…
Um rebatimento do desenvolvimento do estágio intensivo ao nível
da ideologia é o surgimento da figura do 'Estado de bem-estar' (Welfare
state) que se coloca como que a materialização concreta
da idéia do bem comum (commonwealth), assim como a forma
política que lhe corresponde, a social-democracia. Esta se originou
na Alemanha, mas acabou tendo uma trajetória turbulenta devido à
derrota daquele país nas duas guerras mundiais. Não podemos
nos estender aqui sobre a questão da social-democracia, que mereceria
uma discussão sobre ela só; mas vamos tocá-la em algumas
de suas implicações adiante, ao abordar a questão
e o significado da 'globalização' aqui no Brasil. Por ora,
retornemos a mais um processo relacionado com o capitalismo contemporâneo:
a saber, da eventual transformação do papel da nação-Estado
em meio à presente crise e suas perspectivas futuras.
5 Globalização e a nação-Estado
Entre as tendências recentes do capitalismo contemporâneo,
além da crescente abrangência do papel do Estado, pelo qual
até agora nós entendíamos a nação-Estado,
uma outra transformação de fundo atualmente em curso diz
respeito precisamente ao papel da nação-Estado no ‘capitalismo
mundial’ ou seja, internacional. Apesar de que a acumulação
de capital nunca mais e nenhures foi um processo relativamente tão
autônomo quanto em seu nascedouro na Inglaterra, pois a penetração
da produção capitalista, ou mais exatamente, das relações
de produção capitalista, nos centros mais novos de acumulação,
tais como, Alemanha, França ou Japão se deu, em boa medida,
sob o efeito da pressão exercida pela Inglaterra e mais tarde, os
EEUU, ainda assim, os processos mais fundamentais do capitalismo: a unificação
do mercado e a imposição do trabalho assalariado, junto com
o asseguramento das ‘condições gerais da produção’,
vale dizer, de uma infraestrutura física e institucional, sempre
se deram dentro dos limites do arcabouço da nação-Estado.
Em resposta à crise atual, a saber, da reprodução
e re-estruturação do capital no relativo isolamento dos âmbitos
nacionais aos quais –e não obstante as numerosas tentativas à
regulação supra-nacional desde o início desse século–
tais processos estão, até hoje, restritos, o que estamos
presenciando é uma multiplicação dessas mesmas tentativas.
A ‘tese’ da globalização é precisamente que as condições
da acumulação capitalista podem ser recompostas na base de
planejamento e controle supra-nacionais bastante ampliados, que requereriam,
naturalmente, um arcabouço de infraestrutura física e institucional
igualmente ampliado (o que diz muito sobre o nível de coerência
das diversas vertentes do neo-liberalismo, entre cujas teses centrais a
primeira é a necessidade de 'diminuir' o Estado).
Independentemente da questão da violenta assimetria que uma tal
organização ‘supra-nacional’ significaria para países
inseridos em relações de força como, por exemplo,
EEUU/ Brasil, ou Brasil/ Paraguai, à qual voltamos adiante, consideremos
tal perspectiva hipotética ainda ao nível geral e no plano
abstrato um pouco mais. Poderia ser que –contrariamente ao que quem aqui
escreve, acredita– tais transformações transcorram e a então
a organização do capitalismo deverá ser analisada
sob novas premissas, onde um nível supra-nacional seja superimposto
às ordens regional e local. Tais transformações estão
hoje, na máximo, ainda em incubação e não podem
ser analisadas por antecipação. Enquanto isso, o espaço
econômico nacional –onde há livre fluxo de capital e
de força de trabalho e uma relação de produção
específica prevalece, com seus próprios nível de subsistência
e formas políticas e ideológicas de sustentação–
permanece o objeto central de análise da sociedade capitalista,
e que fornece, por sua vez, o referencial de análise do processo
urbano no capitalismo contemporâneo.
Ainda, e independentemente da ‘probabilidade’, ou verossemelhança,
de sua concretização no futuro, a própria conceituação
da globalização carece definir precisamente que futuro preconiza,
isto é, se o eventual sucesso dos movimentos na direção
de associações regionais supra-nacionais resultaria em algo
mais que simplesmente nações-Estado maiores, como foi o caso,
por
exemplo, com a aglutinação gradual dos Estados Unidos da
América do Norte, a unificação alemã e o nascimento
da Itália moderna, ou últimamente, a por ora ainda eventual
unificação européia. Uma coisa é a formação
de nações-Estado maiores, uma outra coisa inteiramente diferente
é resultar um Estado único (por ser ‘global’), que deveria
ainda conter em si mesmo todas as tendências para concentração/
diferenciação, assim como todos os antagonismos presentes
no processo de generalização da forma-mercadoria, os quais,
por sua vez, não poderiam deixar de suscitar contradições
e ‘forças centrípetas’ no interior do Estado global, que
acabariam por quebrar sua unidade e sua unicidade. Por menos que isso,
caiu a Torre de Babel e se dissolveu o Império Romano…
De qualquer modo, mais do que a escala e agrupamento das unidades nacionais,
a discussão da crise e do estágio atual do capitalismo gira
em torno da questão suscitada pelo fato fundamental que uma porção
considerável do produto social não pode ser produzido enquanto
valor de uso individualizado metamorfosado em valor de troca, isto é,
não pode ser produzida como mercadoria. Efetivamente, a questão
da crise do capitalismo é a questão dos limites à
generalização da forma-mercadoria, e isto independe dos níveis
de agregação das sociedades do mundo. ‘Globalização’,
nos
centros mundiais de acumulação, é pouco mais que
uma tentativa de estabelecer alguma regulação internacional
no interesse do grande capital, materializado nas companhias transnacionais
e eventualmente, como instrumento de manutenção do status
quo das relações de força internacionais. No
Brasil, e demais países coadjuvantes do concerto internacional
de produção de mercadorias, ela adquire no entanto um sentido
adicional que precisamos abordar agora.
6 A globalização no
Brasil
No Brasil e na América Latina, o liberalismo assumiu um papel
inverso ao das metrópoles. Se lá ele foi a ideologia da burguesia
industrial ascendente, aqui seu signo foi invertido.
Emir Sader, Constituinte, democracia e poder
De maneira geral, quando elementos da ideologia liberal –produzidos nos
países centrais– chegam ao Brasil, eles ou bem perdem o sentido
e ficam com um conteúdo apenas demagógico, ou bem seu sentido
sofre um deslocamento que o altera inteiramente em relação
ao original. É o caso também da globalização,
que podemos ilustrar através de um caso particularmente crucial,
a saber, em sua relação à social-democracia, uma das
questões mais candentes do capitalismo contemporâneo.
No estágio intensivo –vale dizer, no capitalismo contemporâneo–
o nível de subsistência do trabalhador tende a se elevar (é
quando começa-se falar até em qualidade de vida), e melhores
níveis de vida incluem também formas políticas de
organização social, que possam dar vazão à
expressão dos níveis necessários de reprodução
da força de trabalho na forma de reivindicações sociais.
Social-democracia é precisamente a forma política precípua
–por oposição, inclusive, à democracia liberal ‘clássico’,
do estágio extensivo– de uma sociedade já em seu estágio
de desenvolvimento predominantemente intensivo.
Uma controvérsia acompanha o próprio conceito de social-democracia
desde o início, e ela diz respeito à questão de poder
existir ou não (algum grau de) socialismo no capitalismo. De fato,
é essa questão que opós Engels e Kautsky –esse último,
o fundador da social-democracia alemã– e originou em seguida, uma
sucessão infindável de disputas, que a rigor, ainda não
terminou. As formas concretas de social-democracia geraram pouca experiência
prática por causa da trajetória atribulada do país
onde nasceu, a Alemanha; suas formas hoje mais desenvolvidas tem sido gestadas
nas últimas décadas em alguns países do noroeste europeu,
com a Escandinávia, Holanda, e a própria Alemanha à
frente. Admite ademais uma variante mais despolitizada, mas que lhe corresponde
de
fato, a saber, o Welfare State –o Estado de bem-estar– inglês.
Pode-se definir então social-democracia como a forma política
assumida em uma sociedade burguesa quando esta entra em seu estágio
de desenvolvimento intensivo. Sendo assim, a que pode corresponder a social-democracia
no Brasil?
O Brasil vem reproduzindo sua sociedade de origem colonial, uma sociedade
de elite, sustentada em uma organização da produção
também de origem colonial (permanentemente sustada, atrofiada, aleijada
e acéfala), a acumulação entravada. É
um desenvolvimento que anda de freio de mão puxado, e assim, o Brasil
conseguiu permanecer no estágio extensivo por 120 anos a partir
do início de seu desenvolvimento capitalista em 1850. Trata-se de
um fato singular: dos países centrais que iniciaram seu desenvolvimento
capitalista na mesma época a Alemanha e o Japão concluíram
o mesmo estágio em uma geração; até os EEUU,
um país ‘novo’ e americano, terminou seu estágio extensivo
nos anos 1920 – uns 50 anos após a Guerra Civil e a unificação
de seu território. Ainda assim, o estágio extensivo acabou
por se esgotar, no Brasil, ao final dos anos '70. No entanto, a crise dos
anos '80 (a ‘década perdida’) e que ainda não terminou, consiste
precisamente na recusa de sua sociedade recalcitrante em reconhecer a exaustão
do estágio anterior e efetivar a transição para o
estágio predominantemente intensivo. Dessa maneira, se é
verdade que a questão da social-democracia se constitui, ao findar
dos anos setenta, em questão candente e atual, na medida que seria
a acompanhante da transição a um novo estágio de desenvolvimento,
a saber, de acumulação predomoinantemente intensiva, ela
acaba tornando-se uma farsa precisamente pela negação daquela
transição. Desde quando o partido que leva seu nome foi fundado
(PSDB), portanto, e até hoje, a social-democracia
no Brasil é feito carro na frente dos bois, ou melhor, um carro
sem
bois (o estágio intensivo), uma expressão vazia com puros
propósitos demagógicos.
Assim, a globalização que poderia ser apenas uma expressão
nova para um conceito velho, introduzido principalmente por seu caráter
a-histórico, acaba sendo um pouco mais: da maneira como é
utilizada aqui, a globalização torna-se pretexto para
privatização do patrimônio público, abandono
dos controles endógenos e soberanos da economia e do mercado interno,
sub-investimento em infraestrutura… em suma: arma na defesa da manutenção
dos entraves ao desenvolvimento que resultam na atrofia geral da produção,
acefalia da economia mediante entreguismo nos setores-chave, ausência
de sistema financeiro e demais características da econômica
neo-colonial. Tudo que sempre e até recentemente se fez em nome
da ‘vocação agrícola’ do Brasil, se faz agora em nome
da globalização. Em uma palavra, a globalização
torna-se um instrumento de manutenção do status quo
da sociedade de elite.
A globalização e seu conceito-irmão, o neo-liberalismo
são, na Europa, uma reação à social-democracia,
ao prestígio do Estado de bem-estar e da democracia embasada em
uma camada relativamente ampla de classe média. No Brasil, onde
nunca houve social-democracia ou estado de bem-estar, não passam
de novas formas mal dissimuladas de entreguismo.
Para uma interpretação da situação do país
e instrumentar uma tomada de posição com respeito a um projeto
nacional, vale lembrar a agenda proposta por Jacó Gorender, na conclusão
de sua contribuição no seminário Globalização
e estrutura urbana realizado em setembro de 1997, na FAUUSP (Gorender,
1997). Ele distinguia uma maneira passiva e outra, ativa, de inserção
no processo de globalização –vale dizer, duas posições
opostas quanto à inserção internacional do Brasil.
A primeira consiste essencialmente em seguir a cartilha da ideologia dominante
propagada pelos países centrais e manter-se na posição
subalterna histórica no 'concerto das nações'. A segunda,
preparar-se instrumentalmente para enfrentar os efeitos da evolução
das técnicas de comunicação e principalmente a rivalidade
internacional que se intensifica em meio à agudização
dos antagonismos do capitalismo tardio.
Quanto ao primeiro item da agenda, vale mencionar apena que o ‘imposto
Tobin’ –taxação das transações financeiras,
de maneira a aumentar a fricção dos fluxos financeiros internacionais
– é relativamente pouco difundido entre nós, mas é
longe de ser uma proposta obscura: de fato, tem ganho sempre mais atenção
nos países centrais não tanto em razão da preocupação
com a estabilidade financeira dos países periféricos, senão
para tentar restabelecer alguma estabilidade nos cicuitos financeiros dos
próprios países centrais, frente à super-aceleração
recente da intermediação financeira e a decorrente 'volatilidade'
dos mercados. Os demais referem-se à preparação do
país para se inserir na rivalidade internacional, e Gorender arrola
as seguintes medidas:
Mercosul: reforçar - Dentro do arcabouço do Mercosul,
a experiência adquirida em sua construção, o trato
de questões de comércio internacional em pé de igualdade,
e o pêso conjunto dos países-membro, são tantos recursos
valiosos a mais para o país poder enfrentar a concorrência
internacional, assim como as pressões para fazer parte de outros
grupos em posição de franca inferioridade (como no caso da
Alca).
Barreiras não-tarifárias – Barreiras não-tarifárias
são expediente comum de defesa ‘informal’, vale dizer, à
margem dos tratados de comércio internacional, do mercado interno
e da indústria nacionais.
Redução da jornada de trabalho A redução
da jornada de trabalho, além de consistente com a transição
ao estágio intensivo na medida que permite a elevação
do nível de formação da força de trabalho,
que assim fica mais preparada para a evolução tecnológica,
é também a única forma endógena (não
condicionada a um aumento das exportações, que depende dos
‘parceiros comerciais’, vale dizer, de compradores externos) de diminuir
o desemprego, que, quando excessivo, enfraquece a organização
da economia e da própria sociedade.
Defesa dos recursos nacionais – ou simplesmente, uso não-predatório
dos recursos naturais. Sua necessidade decorre do fato simples e elementar,
que os recursos naturais fazem parte do patrimônio nacional, e seu
uso não-predatório –incluindo-se aí a não-poluição
ou não-deterioração, além da exploração
própriamente dita– é uma condição sine qua
non do desenvolvimento sustentável.
Educação –Universalização e extensão
–inclusão de maior parcela da população e aumento
do período escolar do indivíduo são òbviamente
uma pre-condição do desenvolvimento nacional e aqui sòmente
é necessário lembrá-la por seu abandono defato,
ainda que ninguém disputaria abertamente sua importância,
alegando, ao invés, ‘falta de recursos’ ou similar, como se ‘falta
de recursos’ pudesse se aplicar a uma condição de desenvolvimento
em determinado estágio histórico.
De minha parte, eu adicionaria mais dois itens, sem os quais, mesmo na
aproximação mais rudimentar, o rol de medidas fundamentais
não poderia ser completa:
Sistema financeiro: moeda e crédito – É necessário
assegurar a existência de moeda estável e conversível,
instrumento de trocas internas e de parcerias externas em pé de
igualdade, assim como crédito a médio e longo prazos – em
suma, um sistema financeiro digno deste nome sem o qual o capital não
tem fluidez e a estrura produtiva fica asfixiada.
Subsídio à pesquisa e desenvolvimento de produto
– na verdade, uma política ativa de desenvolvimento: que identifica
setores-chave da estrutura produtiva e lhes canaliza recursos ora em antecipação
(pesquisa pròpriamente dita), ora em reforço estratégico
(em resposta a situações conjunturais da economia mundial),
ora em socorro contra extinção (ramos industriais obsoletas,
mas necessárias, como siderurgia). O exato oposto à política
históricamente praticada...
Como se pode ver, assim como o conceito da globalização não
é nova, essas idéias também não o são
– apenas que foram sempre derrotadas, como mostra relato magistral de Nícia
Vilela Luz, A luta pela industrialização no Brasil
(Luz, 1961). Na verdade, não são mais do que uma agenda mínima
para estabelecer as bases do efetivo desenvolvimento –não mais entravado–
econômico e social no Brasil, pendente desde seu estabalecimento
como país autônomo.
Preparar-se para a globalização é simples, portanto.
Trata-se apenas de um conjunto de procedimentos normais de uma nação-Estado
–enquanto entidade econômica, social e cultural– em prol da reprodução
de sua sociedade, burguesa – é bem verdade que no Brasil
isto implica na transformação da sociedade de elite. As condições
da urbanização e a 'vida nas cidades', por sua vez, dependerão
igualmente da concretização, ou não, das potencialidades
encerradas na presente crise da velha sociedade.
7 São Paulo, cidade mundial?
Um programa para São Paulo
No âmbito de políticas urbanas, uma das contribuições
mais significativas que poderia haver para a remoção dos
entraves ao desenvolvimento nacional é a superação,
ou abandono, do príncípio da escassez da infraestrutura urbana,
pois esse ‘paradigma’ – país pobre, infraestrutura precária–
reproduz a fragilização da estrutura produtiva ao nível
físico, ao mesmo tempo que contribui para a perpetuação
de seu ‘espírito’. Já discutimos essa questão a vários
níveis de abstração; aqui levantarei alguns exemplos
concretos, como que exemplificando as colocações anteriores.
Um dos componentes mais fundamentais da infraestrutura urbana é
o sistema de transportes: ele assegura a coesão do espaço,
a própria existência da aglomeração urbana.
Se o faz precariamente, as funções urbanas (vale dizer, a
estrutura de produção e de reprodução sociais)
ficam fragilizadas. Durante mais de década advoguei a construção
de uma rede de Metrô ‘decente’ para São Paulo –vale dizer,
mais generosa, mais à escala da aglomeração urbana.
Há sinais de que a necessidade de um sistema de transporte de massa
para São Paulo esteja, ainda que vagarosamente, se difundindo, a
julgar pela menção ocasional, mas um pouco mais frequente,
dessa mesma necessidade, por não-especialistas (economistas, jornalistas
etc.) e a elaboração recente de um plano –o PITU 2020– que
pela primeira vez desde o PUB de 1968, ao menos enuncia a necessidade de
uma ampla rede de transporte rápido de massas e apresenta uma proposta
de traçado.
Ainda outros elementos de infraestrutura indispensáveis são
o ‘saneamento ambiental’, ou, eu diria simplesmente, uso não-predatório
do ambiente (não precisamos de ‘ciência ambiental’ para saber
que se poluirmos a água que bebemos, teremos problemas), drenagem
das águas pluviais, de maneira a cidade não ficar inundada
a cada pancada de chuva de verão, abastecimento de energia elétrica
confiável e disposição e tratamento do lixo, todos
itens básicos, para não dizer elementares, da infraestrutura
urbana. Qualquer enumeração de itens programáticos
prioritários tende a resvalar numa antologia do óbvio…
Para além do imediatamente necessário, finalmente, como
coroamento, porque não pensar, também, nos visitantes? Um
arquiteto antigo19 disse que "uma cidade deve
ser construída para a comodidade e satisfação de seus
habitantes e para a admiração dos visitantes". Além
das coisas úteis, uma cidade mundial deve decerto possuir charme
adicional: São Paulo tem talvez seus restaurantes de que se gabar,
mas em termos de infra-estrutura urbana, podería-se pensar, por
exemplo, num monotrilho, que iria de Cumbica até a República
e eventualmente até Congonhas; lembraria aquele do filme do Truffaut
(Fahrenheit 471), onde aparece o monotrilho
experimental que liga o aeroporto a Paris, construído há
mais de 30 anos atrás. Em tempo: nós temos tecnologia nacional
para fazer isso (é bom que não se compre, digamos, na Alemanha,
um trem magnético, e que só aumentaria a opulência
de lá, deixando um vácuo tecnológico aqui…),
como a Koester-Sûr de Porto Alegre com seu trecho experimental funcionando
no centro daquela cidade, ou qualquer outro que poderia ser desenvolvido.
Portanto, porque não deixar maravilhados os visitantes, que deslizariam
do Aeroporto de Cumbica, ao longo do Parque Ecológico e da várzea
do Tietê, até o centro histórico…—
este, em pleno processo de revitalização, devido a sua acessibilidade
devolvida pela rede de Metrô?
É bom frisar que todos os empreendimentos aqui preconizados dependem
de iniciativas governamentais cujo âmbito na situação
presente está fracionado e desestruturado. São Paulo –e não
é só São Paulo: as áreas urbanas todas, nossas
aglomerações urbanas em geral– precisam de uma reforma administrativa
e institucional que os aparelhasse a administrar a sua própria vida.
Das infra-estruturas que mencionamos, duas dependem de instâncias
fora do alcance municipal. O Metrô está sob administração
estadual, e as telecomunicações estão à cavaleira
entre uma administração estadual e uma forte regulação
no âmbito federal. Para ilustrar tais dificuldades institucionais,
recordemos a tentativa esboçada pela administração
Luíza Erundina (1989-92), de implantar uma ‘rede municipal de informática’,
que seria a interconexão dos órgãos administrativos
do município através de uma rede de comunicações
de alta capacidade. Não para a cidade toda, que estaria fora de
questão, mas, pelo menos para os órgãos municipais,
eventualmente extensiva para os órgãos das demais instâncias
de governo. Afinal, o projeto nem saiu do papel, porque apesar de que o
custo da implantação seria baixíssimo, da ordem de
75 milhões de dólares, não dava nem para começar,
por várias razões. O candidato natural para operacionalizar
a iniciativa era a Telesp, que não tinha capacidade empresarial
para executá-la (pelo que ficou claro a posteriori, a inépcia
acima do normal da Telesp já era uma estratégia para sua
desvalorização, em preparação para sua privatização).
Poderia se fazer um sistema privado da Prefeitura, com um canal de satélite
e uma estação retransmissora no Pico do Jaraguá, mas
isto dependeria do aval do Ministério das Comunicações…
vale dizer, a iniciativa morreu no nascedouro, e o projeto não chegou
a sair dos segundos escalões do governo municipal. Em suma: na organização
institucional atual, com a melhor das boas vontades, é muito difícil
pensar numa administração da aglomeração urbana
que a levasse a novos patamares de nível de serviço, ou a
novos níveis de qualidade do ambiente urbano.
Urbanização no core do Mercosul- Uma
vista noturna do sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e o norte de Chile e
da Argentina mostra a intensidade da urbanização na região
(do suplemento da National Geographic, outubro 1998)
|
 |
E no entanto, o prêmio seria considerável. Além
do benefício imediato do salto de qualidade da vida urbana, haveria
toda a potencialização decorrente do ainda embrionário
Mercosul. A figura acima ilustra São Paulo enquanto candidato a
centro econômico já não sòmente do Brasil, senão
de toda a região do Mercosul. Trata-se apenas de uma potencialidade,
já que atualmente nem São Paulo está equipada condignamente,
nem o Mercosul é uma região efetivamente integrada e de mercado
unificado. Mas, maior a pujança de São Paulo, melhores as
perspectivas de integração no Mercosul; e reciprocamente,
mais se integra o Mercosul, mais sólida se torna a base econômica
de São Paulo.
O futuro de São Paulo reside sem dúvida em primeiro lugar
em São Paulo, em segundo lugar, no Brasil, em terceiro lugar, no
Mercosul e a América Latina. Em quarto lugar, no ‘mundo’…
* * *
Bibliografia
AGLIETTA, Michel (1976) A theory of capitalist regulation
New Left Books, London, 1979
AMIN, Samir (1992) "1492" Monthly Review 44 (3):10-19
BALL, Michael, Gray F & McDowell, L (1989) The
transformation of Britain. Contemporary economic and social change
Fontana, London
BUDD, Leslie (1995) "Territory and Strategic Alliances
in Different Financial Centres" Urban Studies 32 (2)
BUDD, Leslie (1998) Territorial competition and globalization:
Scylla and Charybdis of European cities" Urban Studies 35(4):663-85
DEÁK, Csaba (1985) Rent theory and the price
of urban land/ Spatial organization in a capitalist economy PhD Thesis,
Cambridge
DEÁK, Csaba (1989) "O mercado e o Estado na organização
espacial da produção capitalista" Espaço &
Debates, 28:18-31
DEÁK, Csaba (1990) "Acumulação entravada
no Brasil/ E a crise dos anos 80" Espaço & Debates 32:32-46
EDWARDS, Michael (1984) "Planning and the land market:
problems, prospects and strategy" in Ball, Michael et alii
(Eds, 1984) Land rent, housing and urban planning Croom Helm, London
FAINSTEIN, Norman & FAINSTEIN, Suzanne S (Ed, 1982)
Urban
policy under capitalism (Urban affairs annual review, Vol.20) Sage,
Beverly Hills, Ca
FERNANDES, Florestan (1972) "Classes sociais na América
Latina" in Fernandes (1972) Capitalismo dependente e classes sociais
na América latina Zahar, São Paulo, 1981
GILL, Stephen (1993) "Neo-liberalism and the shift towards
a US-centered transnational hegemony" in Overbeek,
Henk (Ed, 1993) Restructuring hegemony in the global political economy/
The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s Routledge, London
GORENDER, Jacob (1977) "Globalização e Trabalho"
Seminário
Globalização e Estrutura Urbana, FAUUSP, setembro
GOUGH, Ian (1982) "The crisis of the British welfare state"
in
FAINSTEIN & FAINSTEIN (Ed, 1982)
HILL, Christopher (1967) Reformation to industrial
revolution Penguin, Harmondsworth, 1969
KEMENES, Egon (1981) "Hungary: economists in a socialist
planning system" History of Political Economy 13 (3):580-99
LENIN, Vladimir I (1915) "Introduction" to BUKHARIN, Nikolai
(1915) Imperialism and world economy Merlin, London, 1972
LUZ, Nícia Vilela (1961) A luta pela industrialização
do Brasil Alfa-Omega, São Paulo, 1975
MAGDOFF, Harry (1969) The age of imperialism/
The economics of U.S. foreign policy Monthly Review
Press, New York
MANDEL, Ernest (1972) Late capitalism Verso, London,
1978
MASSEY, Doreen (1974) "Social justice and the city: A
review" Environment & Planning, traduzido em (1990) Espaço
& Debates 28.
Monthly Review, The Editors (1992) "Globalization
– to what end? Parts I-II" Monthly Review 43 (9-10)
OVERBEEK, Henk (Ed, 1993) Restructuring hegemony in
the global political economy/ The rise of transnational neo-liberalism
in the 1980s Routledge, London
SEKINE, Thomas T (1977) "Translator's foreword"; "An essay
on Uno's dialectic of capital"; "A glossary of technical terms" in
Uno (1964)
RADICE, Hugo (ed, 1975) International firms and modern
imperialism Penguin, London
UNO, Kozo (1964) Principles of political economy/ Theory
of a purely capitalist society Harvester, Essex
Apêndice
A tabela abaixo, dos gastos governamentais em alguns principais países
centrais, mostra as ordens de grandeza envolvidas no processo de expansão
do âmbito do Estado na produção social (total dos produtos
nacionais, ou PIB-s), que acompanha o desenvolvimento do estágio
intensivo do capitalismo:
Gastos governamentais em países
selecionados, 1880-1985
Em proporção ao produto nacional (% do PIB)
| Ano |
Inglaterra |
Alemanha
|
França
|
Japão
|
Suécia
|
EEUU
|
| 1880 |
10
|
10
|
15
|
11
|
6
|
8
|
| 1929 |
24
|
31
|
19
|
19
|
8
|
10
|
| 1960 |
32
|
32
|
35
|
18
|
31
|
28
|
| 1985 |
48
|
47
|
52
|
33
|
65
|
37
|
World Bank, World Development Report
1991, Washington
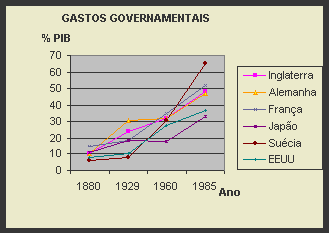
O Banco Mundial não é pródigo em dados análogos
mais recentes, mas seu sítio na rede Internet dá na Tabela
1.5: Receitas do governo central ('Central government revenue'), sob
a rubrica Government finance/Long term structural change, que tais
receitas (governo central apenas, sem o governo local ou empresas estatais)
passaram de 19% do PIB em 1970
a 30% em 1998 (esse período
inclui os dez anos de Thatcherismo/Reaganismo com sua fúria privatizante
e avaliado em Ball et alii, 1989, já referido), indicando
que a tendência de ampliação do âmbito do Estado
continua em vigor.
(Fonte: http://www.worldbank.org/data/wdi2000/pdfs/tab1_5.pdf)